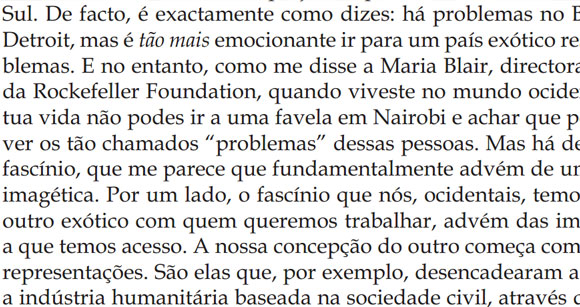
When Frederico Duarte asked me if I’d be into having a conversation about social design in Portuguese, I was instantly game. Over email, we had a fun back and forth that became a section of the Portugal e Ãfrica: Melhor Cooperação, Melhor Desenvolvimento [“Portugal and Africa: Better cooperation, better development”] book, a publication of the ACEP — Associação para a Cooperação Entre os Povos. This was the first time me and Frederico collaborated, and it was an immense pleasure to finally pen something with him. The full book can be seen at the ACEP website in PDF, or it can be ordered at info@acep.pt. After the jump, the full conversation between me and Frederico — unfortunately only available in Portuguese.
Ãreas Cinzentas
Os últimos anos viram o surgimento de uma disciplina que resulta da intersecção do campo do design com o sector social, a inovação e a economia: o design social. Factor de entusiasmo e fervor imenso entre designers, crÃticos, curadores, historiadores e beneméritos, o design social tem dado azo a prémios, artigos, publicações, cursos e exposições. Mas o entusiasmo por si só produz poucos resultados. Como tal, muitas das histórias que nos vêm sendo contadas sobre designers, os seus projectos e as pessoas que estes pretendem ajudar acabam, após um olhar mais cuidado e menos entusiasmado, por ser tanto veÃculos, como vÃtimas de generalizações e estereótipos grosseiros sobre quem projecta e quem supostamente beneficia desse acto. Frederico Duarte e Vera Sacchetti, ambos crÃticos de design, discutem estratégias de saÃda do que se tem tornado um ciclo vicioso de expectativas e experiências, necessidades e dependências, frases-feitas e modelos gastos.
Frederico Duarte (FD): O crÃtico de arquitectura do New York Times, Michael Kimmelman, começa a sua recensão da exposição “Design With the Other 90 Percent: Cities†(publicada a 21 de Outubro de 2011) falando do casal que se encontrava atrás de si na fila para entrar no átrio do edifÃcio das Nações Unidas em Nova Iorque, onde foi montada a exposição. Descreve como estes, enquanto brincam com o seu iPad, dizem em voz alta o quanto consideram Steve Jobs – o recentemente falecido fundador e força-motriz da Apple – “um guruâ€. No parágrafo seguinte, Kimmelman afirma que o “design é entendido pela maioria das pessoas como as coisas bonitas que uma sociedade afluente faz para si mesmaâ€. Logo a seguir, acrescenta que “Esta exposição não é sobre esse tipo de designâ€. Mencionando vários dos projectos apresentados (todos oriundos de cidades e paÃses “do Sulâ€), o crÃtico elogia a simplicidade formal e a beleza das soluções encontradas por designers e arquitectos para a resolução não de desejos de coisas bonitas (como aquelas que Steve Jobs “deu†à humanidade), mas de reais necessidades das pessoas, além de soluções para o que chama de “crises que há muito parecem irresolúveisâ€. Kimmelman termina o seu texto falando de um projecto de barcos salva-vidas implementado no Bangladesh, os quais conciliam materiais tradicionais, técnicas locais de construção e fontes de energia renovável, elementos por ele considerados parte de um modelo de “design contextualâ€. E, não sem antes dizer que pretende ver este e muitos projectos em primeira mão, remata com a seguinte frase: “Também isto é coisa de guru do design.â€
Sem prescindir do deslumbramento dos iniciados e dos entusiastas, nesta recensão Kimmelman descobre “o resto do mundo†através do design social. Fá-lo porém sem desafiar os estereótipos através dos quais tanto ele como os seus leitores vêem o design. O que começa por ser uma disciplina “de gurusâ€, preocupada em gerar coisas bonitas para sociedades afluentes, é no fim do texto a mesma coisa: a diferença é que agora, também os gurus se preocupam com “os outrosâ€. Para alguém que escreve numa publicação com a autoridade e alcance do New York Times este tipo de discurso sobre o design não é só frustrante, é perturbador. Concordas?
Vera Sacchetti (VS): Parece-me que este tipo de reacção do Kimmelman é comum quando pela primeira vez se entra em contacto com este design comummente designado de “social†– que, para esta nossa discussão, se situará sempre em contextos de subalternidade, os quais para pessoas como Kimmelman parecem mais “reais.†No entanto, vista a exposição e terminada a recensão, as preocupações de Kimmelman, bem como de qualquer visitante, voltarão à entrada da rua 42 com a 1ª avenida, a Manhattan e ao Ocidente. De que valeu a experiência, então? A exposição “Design with the other 90 Percent: Cities†é a segunda numa série de exposições sobre design social concebida pelo Cooper-Hewitt National Design Museum, um dos museus nacionais dos EUA; é de destacar o facto de esta ter lugar no edifÃcio das Nações Unidas, dando a uma exposição de design social uma visibilidade sem precedentes. A primeira desta série, intitulada apenas “Design for (atente-se ao for, ou para, em vez do maisrecente with, ou com) the Other 90 Percent,†teve lugar em 2005 e foi objecto, em partes iguais, de atenção e polémica por parte da comunidade de design americana. A ela seguiu-se “Why Design Now?,†a edição de 2010 da Trienal de Design dos EUA, totalmente dedicada a projectos de cariz social.
Outras instituições para além do Cooper-Hewitt também têm respondido ao “imperativo social†do design. Também em 2010, o Museum of Modern Art (MoMA) organizou a exposição “Small Scale, Big Change,†dedicada a projectos de arquitectura social de vários pontos do mundo. Quando o MoMA, indubitavelmente uma das mais poderosas e influentes instituições culturais do mundo, atenta em projectos de arquitectura e design social, é meio caminho andado para que se abram as portas para algo como a presença de uma exposição de design social nas Nações Unidas. No entanto, é necessário dizer que exposições como estas apresentam estes projectos isolados num pedestal, como se fossem uma cadeira, uma torneira, ou, voltando ao “guru†da fila para a entrada, um iPod. E isto é extremamente problemático. Tal como referes, o público destas exposições está habituado a um discurso de design como disciplina dedicada à resolução de problemas, coisa que faz de modo clÃnico e certeiro. Está também habituado a que lhes contem a história destes projectos de modo simples e rápido, em diagramas com poucos passos, que o leve sem grande esforço do problema à sua resolução.
No caso do design social, as histórias são fundamentalmente diferentes. Esta disciplina hÃbrida e informal vive numa intersecção do design com o sector social, aparentemente nas franjas e margens do capitalismo. É como tal tudo menos passÃvel de ser contada de modo simples. No entanto, estas exposições insistem em contar de modo (demasiado) simples as histórias dos projectos que apresentam. Vejamos a escola primária que o arquitecto do Burkina Faso Diébédo Francis Keré projectou para a sua aldeia natal entre 1999 e 2001. Apresentado como caso emblemático em várias destas mostras, este projecto é reduzida a algumas fotografias de uma escola de lama com crianças felizes a aprender, e a dois ou três desenhos diagramáticos. Não há informação sobre o contexto, sobre os vários intervenientes no processo, nem sequer uma mera indicação geográfica – como se todos os visitantes destas exposições soubessem onde é, e o que é o Burkina Faso. Ou pior, alimentando os estereótipos culturais que temos enraizados em nós, ao mostrar apenas duas ou três fotografias de crianças africanas numa sala de aula numa planÃcie ensolarada. Projectos como o desta escola são transformadores, verdadeiramente inovadores da prática do design, e assinalam um caminho futuro para a disciplina. Mas sofrem quando olhos ocidentais se entusiasmam com eles, contando depois as suas histórias de forma sentimental, lamechas e preconceituosa. Vejamos também como Linda Tischler, editora-chefe da revista norte-americana Fast Company, escreve sobre a escola de Keré: “O paÃs da Ãfrica Ocidental Burkina Faso é um dos lugares mais pobres do planeta. Chicoteado pelos ventos do Saara e amaldiçoado com um solo pobre, tem um PIB anual per capita de apenas USD$1,200, que é ganho maioritariamente através de agricultura de subsistência. Não tem diamantes. Não tem petróleo. Não tem nenhum dos minerais raros que os paÃses desenvolvidos lutam por ter. O que tem é lama. E raramente, desde que Deus moldou Adão, tem este elemento banal sido utilizado com efeito tão marcante.†Frederico, tu tiveste oportunidade de ver o processo por trás de uma destas exposições – como é que se chega a esta banalização e estereotipização terrÃveis?
FD: Com efeito, uma das disciplinas do meu último semestre do mestrado em crÃtica de design – que nós os dois frequentámos na School of Visual Arts em Nova Iorque – consistiu em acompanhar, discutir e naturalmente criticar as várias faces da concepção e produção da exposição “Why Design Now.†As aulas tinham lugar no Museu Cooper-Hewitt, o qual se encontra instalado na antiga mansão de Andrew Carnegie. Não deixa de ser irónico que a residência opulenta de um dos robber barons da Nova Iorque do século XIX sirva de cenário para exposições de design do “resto do mundo†como esta; na verdade deixa de ser apenas irónico quando investigamos um pouco mais sobre as multinacionais, norte-americanas e outras, que em geral patrocinam exposições como esta (principal patrocinador: General Electric), mas essa seria outra conversa. Uma das principais preocupações dos curadores deste tipo de exposições, tal como dos jornalistas e/ou crÃticos que delas falam, é (ou devia ser…) fazer que este cenário não passe a contexto. Daà a instalação desta última exposição no edifÃcio das Nações Unidas seja simbólica e politicamente significativa. Mesmo assim, estas pessoas esquecem-se que o “mundo desenvolvidoâ€, os supostos 10%, tem também problemas que poderiam ser resolvidos com melhor design, ou uma maior preocupação social. Afinal, no Upper East Side estamos muito, muito longe do Burkina Faso, mas também muito longe do Bangladesh, do Belize e – por muito que doa a todos estes bem-intencionados profissionais admiti-lo – do Bronx. Isso torna-se evidente num dos comentários ao artigo no New York Times, o qual traduzo aqui: “O resto do mundo em desenvolvimento está a investir na erradicação das favelas, na educação das crianças, em cuidados de saúde acessÃveis, em novos programas de reciclagem, transportes públicos e crescimento económico. E os residentes de Detroit, Newark e Philadelphia observam com inveja.†De que forma é que exposições e artigos sobre design social como estes cultivam estereótipos do resto do mundo e ao mesmo tempo ignoram o que está perto de nós? Há uns tempos escreveste um artigo que falava precisamente disso.
VS: Esse artigo de que falas, que foi escrito em 2010 juntamente com o Avinash Rajagopal, começava com uma imagem da entrega do Curry Stone Design Prize em Nova Iorque. Anualmente, a Fundação Curry Stone atribui cem mil dólares a projectos que combinem design e inovação. Os fundadores do prémio defendem que os “designers podem ser uma força motriz para o melhoramento da vida das pessoas e do estado do mundo.†O que nos chocou nessa entrega de prémios foi precisamente esse fascÃnio com projectos que são todos, todos, em paÃses do Sul. De facto, é exactamente como dizes: há problemas no Bronx e em Detroit, mas étão mais emocionante ir para um paÃs exótico resolver problemas. E no entanto, como me disse a Maria Blair, directora executiva da Rockefeller Foundation, quando viveste no mundo ocidental toda a tua vida não podes ir a uma favela em Nairobi e achar que podes resolver os tão chamados “problemas†dessas pessoas. Mas há de facto esse fascÃnio, que me parece que fundamentalmente advém de uma questão imagética. Por um lado, o fascÃnio que nós, ocidentais, temos com esse outro exótico com quem queremos trabalhar, advém das imagens dele a que temos acesso. A nossa concepção do outro começa com imagens e representações. São elas que, por exemplo, desencadearam a que é hoje a indústria humanitária baseada na sociedade civil, através da resposta avassaladora de europeus e americanos aos apelos humanitários provenientes de Ãfrica durante a guerra do Biafra entre 1967 e 1970. Foi nessa altura que, pela primeira vez, o mundo ocidental passou a ter acesso a imagens em directo — são de então aquelas primeiras fotografias que cimentaram o estereótipo do menino africano a morrer de fome — que permitiram ao mundo ocidental unir-se para “resolver†os problemas de Ãfrica. Esse impulso do “para Ãfrica, rapidamente e em força†foi responsável, depois, por uma série de deslizes e erros que até hoje continuam, tendo muitas vezes consequências graves. Esse é um impulso que revejo nas iniciativas de designers do Norte em paÃses do Sul: “vamos, no matter what.†E este é precisamente um impulso que deve ser combatido, sempre, ao mesmo tempo que lutamos contra os nossos estereótipos e os nossos preconceitos culturais sobre esses “destinosâ€. Por outro lado, a questão imagética reflecte-se também nas imagens que são usadas hoje para comunicar os projectos de design social. Elas derivam das imagens que referi anteriormente, porque mais uma vez, dentro do ciclo vicioso do estereótipo, são a maneira que conhecemos de representar esse outro. Só que se dantes se viam imagens de crianças pobres e famintas como significantes de pobreza, guerra e infelicidade, agora vemos imagens de crianças sorridentes e felizes, as quais são agora — ou ambicionam ser — significantes de felicidade, prosperidade, indicando-nos que está tudo bem. Usadas como provas de sucesso dos projectos que representam, estas imagens querem fazer-nos crer que as crianças servem como prova das façanhas do designer. Deduzimos o futuro feliz de grupos inteiros de pessoas baseando-nos apenas no instante do clic. Qualquer outra informação é secundária. A imagem, idÃlica, reina suprema, estetizando o habitante do mundo “em desenvolvimentoâ€. Estas imagens são o sonho de qualquer curador, de qualquer editor, de qualquer fundação. E são o sonho de qualquer designer, porque indiciando sucesso, elas dão também hipóteses de financiamento: e bem sabemos que este, embora exista, é difÃcil de obter no sector social. Como exemplo, posso-te indicar a Charity Water, uma das ONGs americanas que estão a experienciar um maior crescimento nos últimos anos. E porquê? Muito por causa da sua fotografia impecável, extremamente bem iluminada e produzida, onde se vê crianças que jubilam sempre que se instala um poço numa aldeia pobre, bebendo água como se fosse o mais delicioso hidromel e sorrindo com a esperança do mundo inteiro nos olhos. Estas imagens são, para quem está verdadeiramente interessado em explorar, mas também falar, ensinar ou escrever sobre o design como ferramenta com implicações sociais, um dos nossos maiores obstáculos. São elas que reforçam os estereótipos e continuam o ciclo vicioso, pelo que temos de as combater e evitar a todo o custo, combatendo também esta simplificação, e reconhecer que todos estes projectos são complexos, hÃbridos, demorados, muitas vezes confusos, em que conceitos como “fim†e “inÃcio†são difÃceis de estabelecer — tal como o são, também, as noções de quando estes projectos falham ou têm sucesso. Eles integram as muitas áreas cinzentas que o nosso mundo tem hoje, longe do preto e branco do antigamente.
FD: Precisamente. Mas na verdade, qualquer processo de design – tanto a Norte como a Sul do Equador – é muito mais complexo e muito mais cinzento do que os media, os museus ou o “mundo†do design nos tem feito querer acreditar, sobretudo nas últimas décadas. Ou seja, não é apenas o design social que nos é vendido como um modelo simplista de sucesso e fascÃnio: é toda a disciplina do design. Quando usado enquanto substantivo – “este carro tem muito design†– ou como adjectivo – “eu só fico em hotéis design†– é o próprio termo que é tornado em estereótipo de uma coisa: um valor acrescentado por um “guruâ€. Daà o termodesign social ser tão absurdo quanto design de penteados ou design de bolos, pois é também tremendamente superficial, para não dizer vazio de significado.
Uma das definições de design que mais aprecio é do teórico italiano Ezio Manzini, para quem design é “a actividade que transforma aquilo que é tecnologicamente possÃvel em culturalmente aceitávelâ€, o que implica o acto de projectar tendo em vista a serialidade industrial e os seus resultados. Tanto este acto como os seus resultados são indissociáveis de uma realidade social. Isso faz com que todo o acto projectual, todo o design-enquanto-verbo, seja social. Dito isto, o design social é o quê? Se a globalização ampliou a nossa ideia do mundo enquanto espaço de acções e consequências partilhadas, ampliou também o campo de acção dos designers. Tanto ao nÃvel do design tradicionalmente aplicado à indústria e ao comércio – ajudando indústrias locais a tornarem-se em actores globais – como ao nÃvel do mais recente design social – dando uma ajuda a projectos fora da esfera empresarial. Contudo, nem sempre as forças da globalização nos têm ajudado a entender as várias realidades sociais das quais o mundo é composto. Daà os muitos equÃvocos e leituras superficiais daqueles 10% que dominam o discurso do design sobre os 90% que, aparentemente, apenas o consomem, usam ou, como se lê no tÃtulo do artigo de Michael Kimmelman, são “salvos pelo designâ€.
Quando a um designer deixa de ser pedido que, em vez de criar coisas, salve os outros, estarão estes “outrosâ€, ou as pessoas que dão a cara pelos resultados do design social, a ser tidos verdadeiramente em conta? Ou estarão apenas a ser usados enquanto meios para um fim? Muitos destes projectos apenas são tornados possÃveis porque há de um lado mais indivÃduos formados em design do que indústrias capazes de lhes dar trabalho, além de corporações e fundações com dinheiro para dar. Do outro lado há uma série de agentes ansiosos (jornalistas, curadores, mas também directores de marketing e publicitários) por falar sobre o que estas empresas querem que nós saibamos que elas fazem com o seu dinheiro. Mesmo quando vários dos projectos que apoiam ficam aquém das expectativas, ou se vêm a provar tremendos fracassos – incluindo os que acabam em exposições no Upper East Side. Isto torna o design social numa bem intencionada e bem projectada manobra de comunicação (ou diversão…) do capitalismo neoliberal, alimentando a retórica que coloca as empresas acima dos estados – ou de organizações supranacionais como a ONU – como responsáveis, ou promotoras do auxÃlio e progresso social, tanto a Norte como a Sul. Até que a moda “do social†mude. Não por isso sejamos ingénuos quanto à s verdadeiras implicações ideológicas do design social…
Outro aspecto que vale a pena salientar é como em qualquer das declinações de design a que nos fomos habituando é sempre colocada uma ênfase desproporcionada no designer enquanto indivÃduo, senão enquanto celebridade – ou, ainda pior, enquanto herói. Não admira portanto que o Kimmelman traga a figura do guru para a sua leitura do design social: afinal, estes profissionais não são apenas meros serviçais de interesses empresariais, ou instrumentos de uma ideologia; eles também aplicam o seu conhecimento, talento e ferramentas para fazer, ou trazer, “o bem†aos outros. Sabemos todavia que isso não é bem assim. Quer se trate de uma mala Hermès como de uma escola no Burkina Faso, tanto objectos bonitos como o progresso social não são coisas criadas por um guru no seu atelier. O sucesso ou fracasso de qualquer resultado de um acto de projectar não depende exclusivamente de uma pessoa ou grupo de profissionais que o desempenham, mas de uma multiplicidade de pessoas que o produzem, distribuem, promovem, legislam sobre ele, vendem e, em última análise, usam ou consomem (já para não falar das matérias-primas extraÃdas e usadas no seu fabrico, nem no seu processamento pós-uso ou consumo). O acto de projectar deve por isso ser encarado como um processo partilhado, diluÃdo, e contemplar todas essas pessoas e etapas. Deve medir expectativas e experiências, acautelar erros e riscos, prever sucessos e fracassos. Tudo isto revela a sua enorme, e muitas vezes avassaladora, complexidade.
Estará a complexidade (incluindo a complexidade do financiamento) destes projectos e a responsabilidade dos designers nele envolvidos a ser adequadamente comunicada à s pessoas, sejam elas visitantes das exposições de design em Nova Iorque, estudantes de design em Lisboa ou leitores de revistas de design em São Paulo? Quem nos dera. Apesar de eu acreditar que os curadores desta e de outras exposições até se arrepiem com a frase chocante da Linda Tischler (que devia ter mais juÃzo), temo que eles, bem como outros membros da equipa do museu (comunicação, serviço educativo, etc) não façam o suficiente para que frases não sejam escritas, ou ditas. Ou seja, em vez de descomplicar – de forma confrangedora – a sua mensagem, temo que não se esforcem como deviam para, ao invés, a complicar. Só assim poderão mostrar e chamar a atenção para a complexidade da disciplina, do processo e dos resultados do design, para não falar da complexidade do “resto do mundoâ€.
Por tudo isto expor design num museu, em fotografias bonitas ou plintos imaculados, é sempre um acto tão problemático quanto frustrado. É que raras vezes os resultados do processo projectual são mostrados para além disso mesmo: ou são produtos acabados onde não podemos tocar, ou edifÃcios construÃdos onde não podemos entrar: “consumimo-los†apenas através de maquetas ou de fotografias dos seus melhores ângulos.
O mesmo acontece com o design social. Em termos de produtos, objectos e edifÃcios, este tipo de projectos gera artefactos, sistemas, soluções menos… sedutoras do que, por exemplo, as coisas belas da Apple. Por isso mesmo é fundamental irmos além das criancinhas a sorrir e mostrar os verdadeiros “resultados†destes actos projectuais, mas também expor as suas histórias, os seus contextos, de uma forma acessÃvel, esclarecedora e transparente. Eu defendo que um museu ou uma exposição de se dedique ao design não se possa dar ao luxo de deixar a pedagogia de parte; de outra forma é pouco mais do que uma loja ou show-room onde as etiquetas de preço foram retiradas dos produtos.
O design em sentido lato é uma disciplina inerentemente optimista. Apela ao “fazimento†do mundo, à construção da utopia. Mas toda a história do design é feita de episódios desse puxa-e-empurra entre idealismo e pragmatismo, oportunidade e oportunismo, criação de desejos e vontade de reforma, afirmação e diluição de autoria. Contar a história do design e as histórias de design é também expor essas relações.
VS: Concordo em absoluto, e penso no fulcro da questão está esta complexidade que sempre permeou o universo do design, mas que só agora vem ao de cima. O Tim Brown, CEO da IDEO — como sabes, uma das maiores empresas de design nos EUA, que é agora também uma participante muito activa no campo do tão chamado design social — falou-me o ano passado dessa mesma complexidade como algo de inescapável. Para ele, “uma vontade de entrar nessa complexidade, abraçando-a e compreendendo-a, e aÃ, de algum modo, atravessá-la e fazer algo tangÃvel no outro lado†é uma capacidade essencial para um designer e que se deve continuamente cultivar. Eu diria mais, e indo de encontro ao que dizes: não são só os designers que têm de abraçar essa complexidade, mas todos os que escrevem, interpretam e contam as histórias do design, trazendo múltiplas vozes para esta conversa, enriquecendo-a e tentado iluminar um pouco melhor este campo vasto do design. Não só para toda a classe profissional, mas também para o público em geral. E sobretudo, para eles (e nós) próprios.